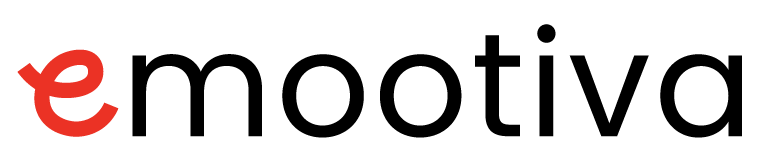por Albertina Silva

No meu gabinete, não existe um médico, mas alguém que escuta. Na porta, lê-se em letras pequenas e discretas: “Está aqui alguém com quem podes falar.”
Quando um ser humano entra, é guiado por luzes suaves, que se acionam à sua presença, até onde me pode encontrar, sentada à sua espera.
À hora marcada, a porta abre-se e, durante uma hora, um ser humano tem para si dois ouvidos e uma sala onde pode circular livremente. Vai ver livros, brinquedos, quadros belíssimos pendurados, outros em branco com marcadores à disposição, pode escolher uma música na jukebox, fazer o seu chá ou café, enfim: é o seu espaço. Eu apenas o acompanho e ouço. Toco, se for necessário tocar aquele ser humano; falo, se for necessário falar algo àquele ser humano. Estou sempre presente e atenta, porém, não pareço existir. Faço questão de não ocupar espaço. Apenas estou ali a escutar, a observar, a fazer parte.
Vivo o meu sonho de ajudar sem me impor. De fazer parte da humanidade, respeitando-a e não a idealizando. Ganhei coragem e segui em frente com a minha experiência de vida, a minha humanidade, a minha ambição, o meu propósito. Segui em frente quando as portas eram difíceis de abrir. Pulei janelas e viajei pela noite escura da incerteza. Procurei conforto na imensidão da minha alma e pedi sempre humildade e sabedoria para encontrar o momento certo para avançar e o momento certo para descansar. Vivi muito, mais viverei. Assim como todos os que caminham numa estrada encostada à minha. O meu sonho de ajudar era apenas este: abrir os meus olhos para o outro e deixá-lo falar, muitas vezes, o incompreensível, o julgável, o punido, o seu próprio grilhão. E foi assim que, libertando-me do meu grilhão, em cada ser humano que toco e me toca, dei vida ao meu sonho de menina.
Há mais caminho. Os sonhos são assim.
Pois eis que, numa manhã de segunda-feira, na confeitaria do costume, encontrando-me à espera que a senhora à minha frente fizesse o seu pedido e o pagasse, acontece o inesperado: vejo o reflexo da minha tarde.
É uma mulher de quase quarenta anos, pele limpa e branca, cabelo curto e encaracolado, sem excesso de peso, sem excesso de luxúria, mãos arranjadas, mas discretas. Vestia roupa pastel e, de facto, aquele cabelo encaracolado e curto fazia-a notar-se, parecia mais alta do que na realidade era. Na verdade, uma mulher muito bonita.
Porém, a vida. A sua.
Oito da manhã. Pede um fino, bebe-o aflita, dá um gole comprido, depois outro logo de seguida. A senhora que está ao balcão quer disfarçar, mas é impossível. Ela não para de beber. Precisa, vê-se que precisa muito de beber aquele fino. Um senhor ao lado dela, cliente habitual, olha para a senhora do balcão. Fazem aqueles sinais de desaprovação com os olhos, mas ela continua a beber enquanto se apercebe e ouve o preço a pagar pelo fino. E termina ali, enquanto todos esperamos, o seu fino Carlsberg, até ao fim. Ninguém fala, ninguém reclama. É como se uma energia parasse tudo até aquela mulher conseguir um pouco de consolo. Pousa o copo vazio no balcão, agradece e vai-se embora. Eram oito e cinco da manhã.
Todos se olharam. Riram-se entre si. E se, primeiro, senti vontade de os chamar à atenção, reparei que também os estava a julgar. Afinal, como reagir? Como continuar a vida normalmente depois daquilo? Levantando os ombros, rindo, fazendo uma piada, seguindo em frente. Eu compreendo.
Tomei o meu café a pensar naquela mulher. Fui trabalhar com aquela sensação pelo meu corpo. Sentia que tinha presenciado um grande ato de coragem e de provação. Senti que, dentro dela, havia um monstro a devorá-la, que mais ninguém via, senão ela, e que só aquele fino o apaziguaria — por enquanto. Pelo menos, até ela encontrar a força para o enfrentar. Não senti pena. Senti o dever de continuar.
Pelas dezasseis horas, ouço a porta a abrir-se. As luzes vão-se acendendo e escuto os passos do ser humano que vou ouvir. Quando ele bate à porta do meu gabinete e a abre gentilmente, vejo a mulher de cabelos curtos e encaracolados à minha frente. Vem em tons pastel, traz uma caixinha com doces e olha-me com bastante carinho. Sorrio-lhe e, verdadeiramente, dirijo-me a ela:
— Bem-vinda!
Entra, pousa a caixinha com doces, o casaco, a carteira, observa tudo ao seu redor, vai caminhando e eu vou passos atrás, observando-a. Para junto da jukebox, sorri, repara na máquina de café, faz-me sinal com os olhos. Respondo que sim e tira-nos um café. Pergunta como o quero. Meia chávena, sem açúcar, respondo.
Traz-me o café depois de também ter tirado o seu. Olha-me. Olho-a. Bebemos o café e vamos circulando pela sala. Olha-me novamente. Espera a fala do costume, mas eu não sou o habitual e espero-a.
Por fim, dirige-se à jukebox. Vai escolher uma música e, desta vez, não me pergunta se pode. Sinto que devo sentar-me no sofá e esperar. De repente, ouço a voz de Elvis Presley cantar “My Way” e reparo que chora. Continuo imóvel. Ela quer chorar. Ninguém a vai impedir ou julgar. Momentos depois, vira-se para mim e sinto-a pronta. Pronta para se entregar a si própria:
— Perdi-me pelo caminho. Agora sonho deixar de beber.
— É um bom sonho — respondo. Depois, calo-me.
Ela precisa de se ouvir. O seu sonho precisa de emergir.