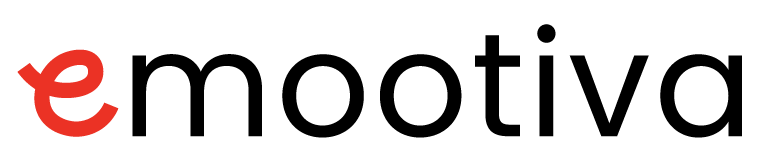por Albertina Silva

Quando eu fiz nove anos, os meus pais e a minha vizinha fizeram uma festa especial para mim que nunca mais, até hoje, voltei a repetir. Muitas vezes pensei que foi um presente que Deus me deu e eu não vi. Durante muitos anos, eu não vi. Estávamos no dia dois de Novembro de mil novecentos e oitenta e sete. Na noite de trinta de Novembro de mil novecentos e oitenta e sete, o meu pai, após sofrer um grave acidente, não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital, nessa mesma noite.
O meu pai morreu quando eu tinha nove anos.
A minha vida cresceu. A vida do meu irmão cresceu. A vida da minha mãe cresceu. E nenhum de nós se deu conta desse espaço. Foi tão de repente, tão estupidamente de repente, que parece que algo se formou ali, como um grito por dar, uma obrigação por continuar, uma estrofe mal escrita que, depois, não encontrou o seu ritmo.
Fomos sempre quatro à mesa. Depois passamos a ser três e um garfo a mais no Natal.
Eu amo muito o meu pai. E eu amo muito a minha mãe. E que pena que só hoje, mulher algo quebrada, algo arrependida, algo em reconstrução, algo em modo coragem, ter percebido como tinha sido bom ter podido comunicar com a minha mãe na altura mais fácil de fazer a vida resultar.
Pensei que era do meu pai que eu sentia angústia, mas, afinal, era e foi sempre a incapacidade que eu trazia, em mim, de conseguir comunicar com a minha mãe.
As palavras que não nos dissemos, trocadas por outras, avessas e confusas; os emaranhados que se foram formando; os vazios, as revoltas, as tentativas falhadas, a carência, a compreensão, porque o mundo era diferente, porque eu era tão sozinha, tão perdida entre curvas e contracurvas, que atropelei e me atropelaram.
Gostava de a ter conhecido antes de ter partido e de me ter partido. Talvez eu estivesse longe de compreender que ela própria, partida, procurava a palavra certa, aquele momento em que parece que tudo se conjuga perfeitamente e o milagre acontece. Mas foi muito difícil. Talvez a pior parte de ter ficado sem o meu pai foi perceber que tinha ficado sem uma parte muito bonita da minha mãe também.
Tive tanta saudade. Tanta saudade. Tive momentos, na minha vida já adulta, em que pensei que uma faca me rasgava a pele, a carne, até atingir uma parte de mim que eu desconhecia e gritava. Fui uma estudante revoltada, uma poetisa revoltada, uma mulher revoltada até ao dia vinte e cinco de Setembro de dois mil e três: o meu filho nasceu.
Vinte e cinco anos separavam aquela perda desta prenda. Vinte e cinco anos em que fui incapaz de comunicar com uma parte de mim: a minha mãe. O meu entendimento, inconsciente, começou quando eu senti receio de não conseguir comunicar com o meu filho.
Algo, em mim, tinha uma dureza, uma casca grossa que, quando ele nasceu, começou a ceder, tornando-se cada vez mais macia até chegar à carne e sentir o que ela escondia.
Mas não estou a escrever sobre mim. E, sim, sobre a minha mãe.
Ela é muito importante. Tão importante que, aos quarenta e cinco anos de vida, me apresento, perante ela, como a menina de quatro anos da fotografia que a admira, enquanto ela sorri para a câmara. Estávamos, nesse dia da foto, na Senhora da Saúde, Carvalhos. No mesmo sítio onde construí a minha própria família e vivi durante quase vinte anos; no mesmo sítio onde tanto passeei com o meu filho, também sozinha, e depois já divorciada; onde também vivi os meus dois últimos anos, antes de adoecer e voltar para o cuidado dela, da minha mãe.
Nunca me abandonou, enquanto não recuperei forças para cuidar de mim. Toda a sua rotina foi direcionada ao meu cuidado. Compreendia-me. Olhava-me com carinho e amaciava as minhas angústias com uma ternura que só uma mãe, que viveu o que viveu, podia compreender. Aprendi que se pode comunicar com o olhar; que, antes da palavra, o corpo já fala e diz coisas simples, verdadeiras e bonitas. Aprendi que, até que a palavra que comunica se expanda, se liberte, outras palavras desabituadas saem primeiro pela boca. Aprendi que conversar precisa de amor e respeito. Principalmente, de humildade. Aprendi que comunicar abre portas, outrora fechadas, e tira a roupa do orgulho e da vergonha. Que dá espaço para ser, que dá liberdade para fazer, que dá caminho para a paz.
Hoje, a saudade que sentia passou a vontade: vontade de fazer diferente, vontade de acreditar diferente, vontade de amar diferente, vontade de ser adulta e criança, vontade de ser mais alegria.
Tudo porque uma porta fechada se abriu e voltei a sentir que faço parte de algo que nunca me foi negado, mas que, por falta de uma capacidade tão grande de comunicação, de rendição, me foi escondido. De facto, voltar a sentir que posso amar a minha mãe, e falar-lhe sem medo ou revolta, fez-me sentir mais perto do meu pai, e, por consequência, mais perto de mim em essência. Fez-lhe tão bem também. Parecia que sentia um alívio, mais liberdade de ser.
Procurei comunicar com o meu filho — e pedi-lhe, a ele, ajuda para isso — da maneira mais sincera possível. Senti, muitas vezes, que me faltava força para ser a mãe ideal; então, fui a real, a melhor que pude ser nos dias difíceis, a melhor que consegui ser nos dias de inverno da vida. Procurei sempre trazer uma primavera para o nosso meio, e ele o sol. E ele, sempre, o sol.
É difícil sermos humanos. As personagens carregam tantas máscaras que, de vez em quando, entre o que se diz ter de ser e o que se pode ser, existe um grande abismo. Não há livros de instruções na arte de viver. E somos humanos. Principalmente, e sempre, somos humanos. Não nos podemos cansar de o dizer, de o tentar compreender na sua plenitude.
E há humanos que nos fazem muita falta para conseguirmos perceber a humanidade e comunicar com ela.
O meu pai, a minha mãe, o meu irmão, foram os primeiros humanos da minha vida. É essa simplicidade.
Se posso confessar algo mais, é que vamos sempre a tempo de recomeçar. Que vamos sempre a tempo de voltar a sentir a emoção positiva, de conseguir comunicar e, finalmente, verdadeiramente expressar, ser quem viemos ser — para quem vier; para quem for embora; para quem puder ficar; para quem, um dia, partir.
Existe, na minha caixinha de cartão, um postal feito na escola com folha branca. Tem, na parte da frente, um flor bem singela, pintada a lápis de cor. Quando se abre a folha dobrada, vê-se num lado a data que é dia do Pai, e do outro lado, por cima de linhas feitas a lápis guiadas por uma régua, lê-se com uma letra tão menina, tão perfeita: “eu amo muito, muito, o meu pai. Um beijinho da Albertina.” Exatamente assim. Uma fotografia dele a preto e branco anda quentinha, no meio daquele amor tão antigo, mas nunca esquecido.
Hoje, deixo aqui o postal para a minha mãe:
Eu amo muito, muito a minha mãe. Um beijinho da Albertina.
Estou aqui porque estes dois humanos me desejaram. Ser capaz de comunicar com eles, com a minha mãe, muda tudo. É como se uma menina de 9 anos saísse de um sítio muito escuro e frio.
Nasci.
Obrigada, vida, por esta oportunidade.
Comunicar, mais do que falar, é um ato de humildade, coragem e amor. Para mim, é.
Talvez só agora eu consiga me amar e permitir ser amada.