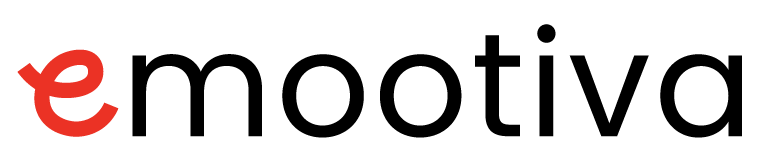por Sónia Brandão

A dor pessoal, de cada um de nós, tem um ritmo, um tempo e uma forma de se apresentar diferente, porque é nossa, é pessoal, é sentida por nós, vivida por nós — e tem obrigatoriamente, de uma forma ou de outra, de ser colocada, em algum momento, na esfera da memória para que a vida possa continuar.
Aquele dia
Mesmo mergulhada na dor que me sufoca, olho à minha volta.
Ouço aquele choro, que estilhaça o pouco controle que ainda tenho, e que me leva para outro plano. Para o plano da destruição.
Eu perdi alguém que amo, mas…
O choro que ouço é de uma mãe que perdeu o sentido da vida. Que perdeu o que a fazia seguir adiante, que perdeu o porquê de existir.
Aquele grito, aquela dor, ainda me atormenta sempre que a minha mente me leva àquele dia.
Por mais que, por vezes, não exista tempo ou lugar para a empatia nestes dias, é impossível não desabar com o sofrimento que nos é transmitido pelo outro, em momentos em que nós próprios nos encontramos de rastos.
Aquele dia marcou a mudança de toda uma vida. Não só da minha, mas de todos os que fizeram parte daquele momento.
Para uns, a vida, o tempo fizeram com que tudo se tornasse numa memória dolorosa, mas ultrapassada.
Mas, para muitos de nós, hoje, anos depois, ainda é inevitável continuarmos a revisitar, vezes e vezes sem conta, aqueles dias, meses, anos…
Por egoísmo necessário, por falta de coragem para enfrentar — mais do que a nossa — a dor dos outros, refugiamo-nos no dia a dia, nas rotinas e continuamos a vida sem pensar ou sem dar muita importância àquilo que fica preso e escondido dentro de nós.
Mas, em algum momento, necessitamos de seguir.
Necessitamos de voltar aos momentos que nos mudaram, que mudaram toda uma rota de vida, e que escolhemos não revisitar, por medo de olhar de frente para o que significam, para o nosso eu atual.
Hoje, recordo.
Volto àquele dia — volto a ouvir aquele grito na minha mente, vezes e vezes sem conta, à procura dos porquês, que nunca vou ter.
Enquanto eu e muitos outros tivemos a possibilidade de fugir, de sair e tentar esquecer, a pessoa que gritou nunca teve.
Nunca pôde deixar para trás aquele momento e continuar. Nunca conseguiu esquecer. Nunca deixou de o reviver, dia após dia, ano após ano — mesmo que poucos de nós o conseguíssemos entender e julgássemos a forma como a destruição nunca mais a deixou retornar à vida.
Ela, de uma ou outra forma, morreu naquele dia.
Desapareceu e nunca conseguiu retornar.
Naquele dia, perdi mais do que uma pessoa que amava, mas continuei, mesmo que, por muitos anos, não tenha conseguido entender o quanto aquele momento me mudou, me afetou, me abalou.
Mas aquela mãe nunca voltou.
Durante anos, ouvi comentários sobre a sua forma de não viver, de desistir de estar aqui e manter-se perdida no nada.
A dita empatia, que nos distingue dos outros seres vivos, aparece algumas vezes, mas o sentimento que nos guia muitas e muitas vezes é o julgamento, o questionar do porquê de alguém se manter de determinada maneira, mesmo que, na maioria das vezes, não se trate de uma escolha — somente do que é possível fazer para estar aqui, ainda.
Ela perdeu a vida, perdeu o sentido da mesma, não porque não tivesse outros para se agarrar, mas porque nada conseguiu suplantar a dor que lhe foi imposta.
Este ser humano, duro na queda, perdido por longos anos, partiu, um dia, enquanto dormia, na serenidade dos sonhos, e deixou para trás uma vida parcialmente vivida, mas muito sofrida.
Dizem que a maior dor do mundo é perder um filho.
Acredito, porque vi a destruição que provocou em alguém que amava.
Ela mantivesse por cá, mesmo nunca estando aqui de verdade.
O seu tempo, para superar o que a vida lhe trouxe, foi toda uma vida, e quem somos nós para questionar o seu tempo!
Conseguiríamos fazer melhor nas mesmas circunstâncias?
Ou só temos a capacidade de julgar, sem nunca nos conseguirmos colocar nesse lugar?